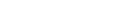O GRIVO ou MÚSICA COMO RANGER, SUSSURRAR, ZUNIR, MURMURAR
Porque tudo canta e cantar é enorme.
Herberto Helder – Poemacto I
Nelson Soares e Marcos Moreira, os dois nomes ocultos por detrás de O Grivo como manipuladores de marionetes, são compositores, músicos/interpretes de suas próprias obras e luthiers, isto é, profissionais artesãos que constroem e consertam instrumentos musicais. No caso deles, inventam os próprios instrumentos que depois, em performances permeadas por uma discreta coreografia de gestos mínimos, silenciosos e prudentes, produzem as complexas algaravias, os chiados, rangidos, rumores, suspiros e ruídos, todos emitidos em alturas que puxam pelo silêncio do espectador/ouvinte, matéria prima de seu vasto repertório, grandemente tributário do acaso, posto que se presume que não saibam ao certo o tipo de sonoridade que obterão de raspagens, percussões, choques de materiais uns contra os outros. Afinal quais são os sons adormecidos nas coisas? Não é mesmo verdade que cada coisa reage de modo diverso ao que nela bate, roça, encosta?
Até o princípio do século XX, barulhos e ruídos eram postos à margem da música. A história é longa, mas um de seus pontos de partida é o italiano Luigi Russolo, compositor e músico Futurista, responsável pela publicação do manifesto L’Arte dei Rumori, de 1913, e pela invenção da sua Máquina de fazer ruídos, a Intonarumori. Até Russolo, a música ocidental estava praticamente confinada à escala cromática, aos sete tons maiores e cinco menores da música tonal – nossos dó, ré mi… + bemóis e sustenidos –, sendo por isso mesmo denominada música tonal, realização protagonizada pelos instrumentos ditos acústicos, todos eles comprometidos com a reprodução desse conjunto de recortes de frequências sonoras, cuja expressão mais conhecida é o teclado branco e preto dos pianos, na prática uma drástica redução do universo sonoro se se considera a amplitude do espectro audível do ouvido humano, que em termos ideais vai de 20 a 20 mil hertz.
De Russolo para cá, muita gente se insurgiu contra a noção canônica de música defendendo o valor do ruído, do som incidentalmente provocado, num arco que vai de Edgard Varèse – que, coerente com a sociedade urbana/industrial, empregava sirenes e buzinas – a John Cage, que compreendia a ampliação da música – ou, para seus detratores, a destruição – pela incorporação do ruído, bem como do silêncio. Neste elenco magistral de artistas, para a percepção mais exata da contribuição de O Grivo, não deve faltar o suíço radicado na Bahia Anton Walter Smetak, músico fecundo, notável criador de instrumentos musicais.
Por si só, a inscrição de O Grivo na respeitável tradição de compositores defensores do ruído e fabricantes de instrumentos não serve para avaliar a importância de sua obra, e o fato da dupla ser cada vez mais bem recebida no âmbito das artes visuais, ao passo que serve para demonstrar a abertura desta, esclarece a lentidão do público ligado à música, que ainda se irrita quando uma dissonância vem atormentar seu cochilo estético. O Grivo começou a ser visto e ouvido além das dilatadas fronteiras das Minas Gerais, de Belo Horizonte, onde vivem, através das trilhas sonoras dos filmes de Cao Guimarães, que são tão experimentais para o cinema brasileiro como as trilhas o são para a nossa música. Não admira que também Cao venha ocupando um espaço exitoso nas artes visuais.
Os objetos musicais inventados por O Grivo são esculturas e instalações que tocam, que emitem sons desencadeados pelos próprios artistas ou por pequenos motores elétricos, ou ainda porque são, ou serão – afinal, até onde irão esses caras? – construídos de modo a colher as correntes de vento que fluem em rotas variáveis, frequentemente imperceptíveis. Em todos os casos, a música que produzem vai longe daquela com a qual estamos acostumados, ainda que nos seja muito conhecida, identificada com o muito da gama sonora proveniente do mundo e que nos é grandemente familiar, porque, como escreveu o grande poeta português Herberto Helder, tudo canta, e cantar é enorme. Cantam as dobradiças que rangem ao peso das portas se abrindo e fechando, o farfalhar das roupas nos armários quando passadas em revistas pelas nossas mãos, os pingos das chuvas no telhado de metal ou telha ou calhas ou nas poças d’água, os assobios que silvam ao acaso, sem coerência com alguma música conhecida, os gritos, imprecações, os choros, os amuos quase nulos, mas ainda assim sonoros. Tudo canta, tudo tem lá sua caixa torácica, sua densidade, seu modo de reagir ao frio, contraindo-se aos estalos, que é diferente dos estalos e suspiros entediados da lassitude com que os corpos vão sentindo o calor, parecendo rebentar sob ele.
Os dois artistas, curvados como ourives do som, ouvidos e mãos apurados, engatam engrenagens e, através de manivelas, rodas de madeira, botam em movimento toda uma miuçalha de barbantes, arames, fragmentos de chapas finas e enferrujadas, polias; por meio de ações dignas de uma dupla de manipuladores de marionetes, ou de mamulengos – estes ainda mais próximos do boneco manipulado –, transformam em girândolas os conjuntos dispersos dos objetos fabricados, cada qual com seu ritmo, cada qual com seu som, que também é resultado do entrechoque entre si. Tal e qual acontece na vida.
Agnaldo Farias